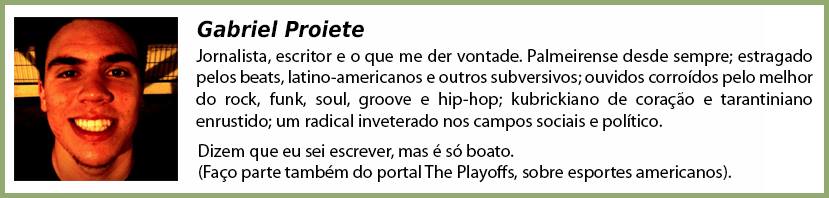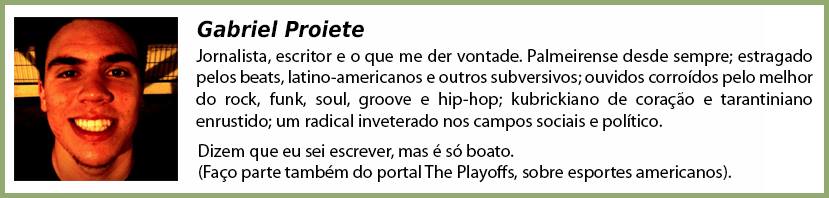Como se a beleza tivesse nome: La La Land

As condições não eram as melhores. Cheguei ao cinema com a namorada contrariada, cansada e sonolenta. Da minha parte, as dores no corpo também incomodavam e os olhos pediam modestamente para fechar. Mas a promessa conjunta de ver todos os filmes indicados ao Oscar antes do Oscar acontecer (coisa que nunca fiz) falou alto e, fora isso, sentia que teria que ver La La Land nesse dia. Não sei se por ser um dia propício a musicais, ou a ausência incômoda dos cinemas há um tempo. Mas eu precisava assistir. E fui.
Confesso: na primeira fileira, onde tive o pescoço entortado, eu estava com a melhor das expectativas, o que podia estragar o filme pela pressão colocada em cima dele ou que podia superestimá-lo em cada coisa comum. Mas La La Land não me deu tempo disso. E durante as pouco mais de duas horas de exibição esqueci um pouco as 15 indicações e o meu sono.
O longa do diretor Damian Chazelle (Whiplash) já começa vibrante, colorido, como um autêntico musical que não nos deixa saber para onde olhar. Anuncia desde o início o prenúncio de cantar as estações, e assim o faz, com a cena introdutória de um trânsito que vira palco de dança e música com uma mistura de culturas, gêneros e tribos entrelaçando-se nas coreografias.
La La Land conta a história de Mia Dolan (Emma Stone), uma jovem garota que aspira ser uma grande atriz em uma inóspita Hollywood onde trabalha em um café, e Sebastian Wilder (Ryan Gosling), pianista e jazzista perdidamente apaixonado pela música e que tem como objetivo principal na vida a recuperação do gênero que ferveu salões ao longo das décadas do início do século XX nos Estados Unidos.
Com contrariedades, e talvez com o anseio tênue por um sonho como uma única intersecção, Mia e Sebastian se conhecem e se envolvem. Mas a intersecção que pode ter sido ponto de partida para uma conjuração que se tornaria amor, mostra-se como o grande obstáculo para o desenrolar do romance – e não como um obstáculo romântico, blasé, que se supera com uma simples organização dos fatos, mas como algo maduro, uma imposição natural que a busca pelo sucesso – e novamente, não o inexorável do sistema, mas o da autorrealização – traz sem avisos ou anestésicos.
Uma característica a mais que torna La La Land não um musical comum, apesar da belíssima adaptação dos clássicos a uma contemporaneidade que, de tão sutil, é quase imperceptível. O longa mostra exatamente a linha frágil dos amores que não acompanham os caminhos paralelos dos sonhos, que não podem esperar e nem perder as chances de cobrir suas outras dores.
Não são adversidades simplórias, como os desencontros casuais que costumamos ver no cinema, ou a famigerada falta de confiança que beira a possessividade. O musical descreve a beleza que não reside apenas em condições estéticas ou em calorosos amores de verão, mas na tristeza de uma felicidade que só pode o ser se não conjunta, pela certeza de que o amar é também ir em linha reta, e não necessariamente entrelaçada.
Ao som da original “City of Stars”, quando maquinam o quanto o amor de ambos consegue abrigar as frustrações e a chance do brilho que ainda não sabem alcançável, Mia e Sebastian trocam os suspiros, por e sem querer, pela esperança das lembranças. E seguem.
E é isso que La La Land nos deixa no final: o alento do que poderia ter acontecido. Como se a vida fosse um simples cachecol que, com pontos perfeitos, pudéssemos fazer e refazer até construirmos um enredo perfeito. Caso a recuperação de cada cena, com suas mudanças pontuais, pudesse ter permitido que o sonho sonhado junto pudesse ser a constante de uma vida que não tolera amores frustrados. No mesmo ritmo de tantos outros que pudemos ver em outros musicais mais comuns, sem as mesmas lágrimas que me correram perto do final.
Crédito da Foto: Reprodução